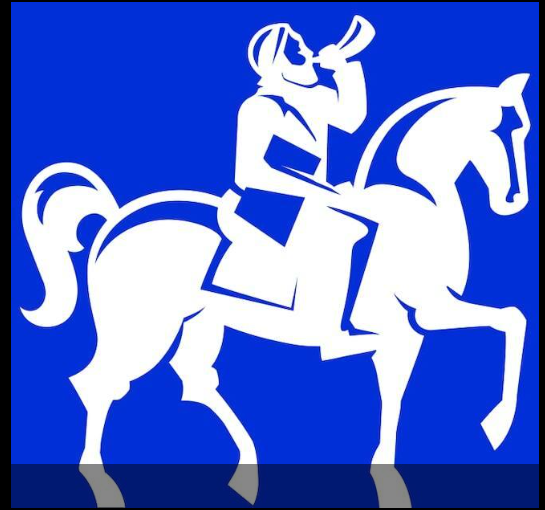A ciência brasileira tem capacidade técnica para consolidar um mercado nacional de carbono robusto, seguro e atrativo
A Lei n.º 15.042/2024, que regulamenta o mercado de carbono no Brasil e institui o Sistema Brasileiro de Comércio de Emissões de Gases de Efeito Estufa (SBCE), foi aprovada em dezembro de 2024. Ela determina, em seu artigo 56, que seguradoras, entidades de previdência complementar, sociedades de capitalização e resseguradores invistam anualmente, no mínimo, 0,5% de suas reservas técnicas e provisões na aquisição de créditos de carbono ou cotas de fundos de investimento lastreados nesses ativos.
Essas reservas técnicas e provisões são fundos mantidos pelas seguradoras para assegurar o cumprimento de suas obrigações com os segurados, especialmente em situações de sinistros ou desastres naturais. Segundo a Superintendência de Seguros Privados (Susep), que regula o setor, em cálculos preliminares, esse porcentual mínimo estipulado pela lei equivale a cerca de R$ 9 bilhões em investimentos obrigatórios nesses ativos ambientais.
O tema ganhou novos contornos a partir da entrada da Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais, Previdência Privada e Vida, Saúde Suplementar e Capitalização (CNseg) com uma ação no Supremo Tribunal Federal (STF). A questão é tratada na Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 7795, sob relatoria do ministro Flávio Dino.
Para a CNseg, a norma viola os princípios da liberdade econômica, da livre iniciativa e da concorrência. A entidade também argumenta que os créditos de carbono não têm relação direta com as atividades desempenhadas pelas instituições financeiras e que o setor de seguros não está entre os principais emissores de gases poluentes.
Nesse contexto, é fundamental ampliar a visão e esclarecer o ponto central da discussão, destacando o propósito da criação da lei que regulamenta o mercado de carbono, o cenário global diante da crise climática e os esforços necessários de diversos setores. A questão vai além de princípios ambientais, trata-se também de reconhecer o potencial do Brasil em transformar esse mercado em uma alavanca de crescimento econômico.
A Comissão de Valores Mobiliários (CVM) na Resolução 4993/2022, antes da lei sobre investimentos em ativos ambientais, já orientava esse investimento por parte das reguladoras – entidades que regulamentam e fiscalizam o mercado de capitais – em ativos ambientais, créditos de carbono ou até mesmo em fundos de investimento que estejam concentrados nesses ativos.
O Brasil precisa avançar e parar de tratar a legislação ambiental como inimiga do setor produtivo. Enquanto enxergarmos as exigências legais como entraves financeiros, deixamos de encarar o verdadeiro problema: a destruição do planeta e, por consequência, o impacto direto sobre a vida humana.
A ciência brasileira tem capacidade técnica para consolidar um mercado nacional de carbono robusto, seguro e atrativo. Mas isso exige maturidade. Precisamos deixar de reagir às pressões internacionais e começar a agir como um país que reconhece o valor das próprias riquezas. O mercado de carbono é uma dessas riquezas e está pronto para ser desenvolvido.
Hoje, nossa economia ainda depende fortemente da exportação de produtos que impactam diretamente a natureza: mineração, agronegócio e indústria de base. Em 2024, as exportações brasileiras somaram US$ 337 bilhões, segundo a Secretaria de Comércio Exterior do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (Secex/Mdic). O País bateu o seu recorde de exportação de US$ 181,9 bilhões na indústria de transformação, que transforma matérias-primas em produtos finais ou intermediários.
Esse cenário nos leva a refletir sobre a dimensão da agricultura no Brasil e a interdependência entre dois setores-chave da economia: o agronegócio e a indústria de transformação. Ambos os setores são fortemente impactados pelas mudanças climáticas, com eventos extremos como longos períodos de seca e chuvas intensas. Esses fenômenos têm acelerado a adoção de práticas sustentáveis, com o objetivo de garantir resiliência ambiental e econômica frente à nova realidade climática.
Nesse contexto, o mercado regulado de carbono surge como uma ferramenta estratégica, inclusive para o setor de seguros, um dos mais diretamente afetados pelos desastres climáticos. Um exemplo claro foi o que ocorreu no Rio Grande do Sul com as enchentes, que levaram à ativação massiva de seguros, desde apólices agrícolas até seguros de automóveis e residências.
Segundo a Revista Seguros, da CNseg, em 2024, o setor segurador desembolsou R$ 13,1 bilhões em indenizações, benefícios, resgates e sorteios no Estado. Apenas os seguros de Danos e Responsabilidades, os mais impactados pelas chuvas torrenciais, responderam por R$ 8,5 bilhões desse total.
Investir no mercado de carbono e em políticas de enfrentamento às mudanças climáticas, como a conservação florestal, é uma medida estratégica para as seguradoras. Além de mitigar riscos futuros, essas ações reduzem os custos operacionais associados a sinistros de grande escala.
O artigo 56 representa uma grande oportunidade para que as seguradoras destinem parte de suas reservas a fundos de investimento voltados a créditos de carbono, ou diretamente a esses créditos. Trata-se de um investimento que, por natureza, contribui para a proteção ambiental, preservando florestas, promovendo o sequestro e o estoque de carbono e, consequentemente, ajudando na mitigação dos efeitos das mudanças climáticas.
Estamos diante de uma convergência de oportunidades: de um lado, o setor de seguros pode realizar um investimento relevante e estratégico para o meio ambiente; de outro, o mercado nacional de carbono, agora regulado, ganha força.
O Brasil já possui uma metodologia inovadora que se difere das abordagens tradicionais para quantificar o carbono estocado nas florestas, desenvolvida pela Universidade Estadual Paulista (Unesp) e com resultados publicados na Scientific Reports, uma revista científica publicada pela Nature Research. A metodologia brasileira traz inovação com relação à quantificação de carbono no sistema florestal e a incorporação de novos fatores, como Fator de Expansão de Biomassa e outros, obtidos em biomas específicos.
As principais certificadoras internacionais adotam, em grande parte, a mesma metodologia recomendada pelo Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC), das Nações Unidas. A metodologia brasileira, no entanto, se diferencia por realizar a amostragem de solo em campo a uma profundidade de até um metro, enquanto as demais se limitam a 30 cm. Além disso, nos procedimentos laboratoriais, o Brasil utiliza um método mais preciso e seguro do que o sugerido pelo próprio IPCC.
Nosso método é aplicável a todos os tipos de solo do planeta, desde os mais rasos (de clima temperado) até os mais profundos (de clima tropical), fornecendo resultados de teores de carbono mais adequados e justos para cada região. Ou seja, onde o solo é mais profundo, a análise é feita até um metro; onde é mais raso, analisa-se até a profundidade máxima possível de amostragem.
Além dessas inovações, nossa metodologia incorpora a avaliação de serviços ecossistêmicos, como levantamento de fauna, flora, monitoramento da área, etc., tornando a qualidade e valoração do nosso carbono muito maior do que os demais de outras metodologias.
É preciso confiar na capacidade da ciência brasileira de estudar nosso território e inovar com base em soluções próprias, posicionando o Brasil de forma sólida e confiável no cenário internacional. Não se trata de uma perda ou de um investimento sem retorno para o setor de seguros, mas sim de reconhecer que temos o potencial de liderar esse mercado. Investimentos na aquisição de créditos de carbono, viabilizados por essa regulação, são fundamentais e a participação ativa das seguradoras nesse processo representa uma contribuição estratégica para o fortalecimento do mercado nacional de carbono.
Fonte: Estadão.com.br – Últimas Notícias